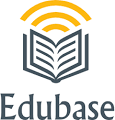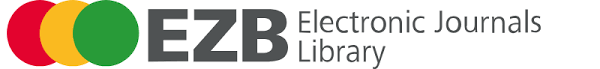Enviar Submissão
Outras Informações
ISSN eletrônico: 1981-8416
Contato:
revistainteracao@gmail.com
Rede Social
Qualis-Capes
A2 no Qualis/CAPES 2017-2020
Índice H - 23
Índice i10 - 87
Indexadores:
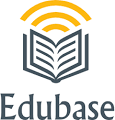







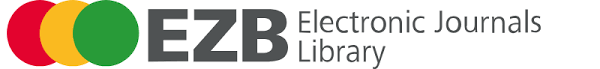
ISSN eletrônico: 1981-8416
Contato:
revistainteracao@gmail.com
Rede Social
Qualis-Capes
A2 no Qualis/CAPES 2017-2020
Índice H - 23
Índice i10 - 87
Indexadores: